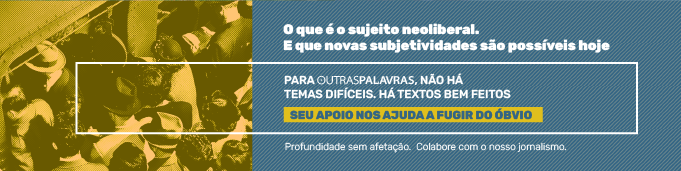A guerra e o perigo dos mercenários
Em que medida Academi (EUA), Grupo Wagner (Rússia) e assemelhados representam uma tendência histórica? Como a Guerra Fria quebrou o monopólio estatal dos exércitos? Quais os riscos de brutalidades ainda maiores e rebeliões?
Publicado 07/07/2023 às 13:47

Por João Rafael Gualberto de Souza Morais, na Le Monde Diplomatique Brasil
No último final de semana, um motim do Grupo Wagner, uma companhia militar privada russa, abalou a estabilidade da grande potência nuclear. Especulações sobre um golpe logo apareceram e diversas análises apontaram o risco de guerra civil. Debelado o motim, ainda não se sabe com precisão o que ocorreu, mas uma coisa se pode afirmar: a relação entre o grupo e o Estado russo atingiu o ponto de fervura e se tornou uma ameaça ao esforço de guerra na Ucrânia e à ordem interna na própria Rússia. A tensão entre o Ministério da Defesa e o grupo escala há semanas com declarações de Yevgeny Prigozhin, líder do Wagner, acusando erros na condução da guerra por parte do MD, que tenta, por sua vez (e sem sucesso), subordinar os mercenários. O clímax e a centelha para a rebelião teriam sido a acusação, feita por Prigozhin, de ataques do exército russo contra o seu grupo na frente ucraniana.
Isso nos leva a indagar: estaria Putin decidido a destruir o grupo, mediante a recusa de Prigozhin em incorporar-se às forças regulares? Não se sabe ao certo, mas é uma hipótese razoável. Outrora um instrumento prático e eficiente à disposição do Estado para projetar poder a baixos custos políticos, o G. Wagner parece ter se tornado uma ameaça. E não surpreende: historicamente, mercenários representam um perigo e, por isso, foram superados por exércitos nacionais. Vejamos como se deu esse processo, como se apresenta esse perigo e por que o recurso a esse expediente retornou e hoje ocupa os noticiários sobre a maior potência nuclear do mundo. Comecemos pelos fundamentos do problema.

Guerra, estado e monopólio da violência
A guerra é um fenômeno constitutivo do Estado. A era moderna observou o desenvolvimento de um sistema internacional protagonizado por Estados soberanos dotados de exércitos profissionais, regulares e nacionais. Esse processo, além de condicionado por contingências históricas, foi também pautado por reflexões dedicadas à guerra e sua relação com a política, como a obra do florentino Nicolau Maquiavel, um dos autores seminais para pensar a modernidade, e a de Carl von Clausewitz, general prussiano autor de uma densa análise sobre a “natureza” política da guerra. O espaço compreendido entre os dois corresponde ao processo de desenvolvimento dos exércitos modernos, que demandou a superação do emprego de mercenários em prol da institucionalização do poder militar.
Mas qual é o problema no emprego de mercenários? Por que exércitos nacionais se tornaram hegemônicos? E em que medida o que aconteceu na Rússia representa uma tendência histórica? Segundo Clausewitz, o conflito militar se define por uma ontologia política: “A guerra nada mais é que um duelo em escala mais vasta, (…) um ato de violência destinado a compelir o oponente a fazer nossa vontade. (…) Não seria a guerra meramente uma outra linguagem para veicular o pensamento político? É certo que possui uma gramática própria, mas não uma lógica própria. (…) A guerra é a continuação da política por outros meios.”
Embora a guerra tenha imensa amplitude na história e esteja sujeita a abordagens diversas, tomemos sua acepção mais compatível com a relação interestatal, isto é, enquanto fenômeno político indissociável da realidade internacional. As relações internacionais se dão em um ambiente carente de regulação supraestatal, onde prevalecem arquiteturas de segurança baseadas no equilíbrio de poder. Isso significa que o emprego da violência como instrumento político tem sido uma marca irredutível do horizonte internacional.
Com efeito, a guerra demanda logística complexa e impulsionou o desenvolvimento do Estado moderno, cuja centralização se baseia em dois elementos articulados: a burocracia e o monopólio da violência, traduzindo empiricamente uma fórmula de Maquiavel: boas armas para garantir boas leis; e boas leis para garantir boas armas. Consolidado, o Estado passou à especialização da violência canalizando-a para fora através de guerras que definiram os limites – sempre flexíveis – do sistema internacional. Esse processo levou à necessidade de mais poder militar, e o aumento da arrecadação – a partir da expansão comercial e da burocracia – viabilizou a substituição do antigo sistema de vassalagem, dominante na Idade Média, por exércitos permanentes.
A formação dos exércitos modernos: dos mercenários aos exércitos nacionais
Os exércitos contemporâneos são constituídos por três elementos básicos: profissionalismo, subordinação e nacionalismo. O primeiro está associado à dedicação exclusiva e regular à atividade militar; o segundo, ao binômio hierarquia e disciplina, que só foi possível com a burocracia do Estado moderno; e o terceiro diz respeito ao sentido de pertença à comunidade nacional, consolidada durante o século XIX.
Segundo Hobsbawm (2010, p. 28), antes do Estado, o poder esteve limitado pela incapacidade dos governos de exercer um monopólio efetivo dos armamentos devido à “incapacidade de manter e suprir continuamente um corpo de servidores armados e civis suficientemente numeroso, e, naturalmente, pela insuficiência de técnica das informações, das comunicações e dos transportes”. Nesses reinos, e até mesmo nos poderosos impérios, a força física “dependia de uma reserva de guerreiros que pudessem ser mobilizados em casos de especial necessidade e de uma reserva desses guerreiros que estivessem disponíveis de forma mais ou menos permanente”. O poder político “era medido pela quantidade de guerreiros que um líder pudesse mobilizar com regularidade”.
A Europa medieval foi dominada por um sistema militar baseado no compromisso entre segurança e propriedade (a “vassalagem”), amador se comparado aos exércitos profissionais modernos. As forças eram temporárias, de preparo rudimentar e a atividade militar funcionava como um sistema sazonal: o nobre guerreiro oferecia seu serviço e suas tropas a outro mais poderoso (seu suserano) quando convocado em troca de terras ou destaque no reino. Nessa fase, o soberano não era capaz de manter forças regulares, que demandam complexa burocracia e logística, além de uma arquitetura política bem definida.
Com o aumento da arrecadação de moedas, consequência da expansão da economia mercantil do século XIV, muitos príncipes passaram a ter condições de empregar mercenários, soldados profissionais que viviam de oferecer seus serviços por pagamentos. As novas receitas – advindas da expansão da tributação, inclusive, daqueles capazes de pagar para não prestar serviço militar – geraram receitas para a manutenção prolongada dos soldados que desejassem servir em troca de pagamentos regulares. Foi, assim, possível lançar as bases de um exército permanente e reduzir progressivamente a dependência da vassalagem, condicionada a controles subjetivos.
Foi na península itálica, cenário das maiores potências financeiras da época, que o emprego de soldados profissionais adquiriu caráter mais estável primeiro. As cidades italianas passaram a confiar sua segurança inteiramente a profissionais, dando à atividade militar contornos de “uma profissão na inteireza do termo, separada por completo de qualquer outra atividade civil” (PARET, 2003, p. 32). O emprego de mercenários proporcionou aos reinos mais ricos o recurso a instrumentos militares mais competentes, dando origem a uma revolução militar e social. A riqueza das cidades italianas atraía soldados de toda a Europa, levando à formação de exércitos capazes não apenas de prover segurança, mas também conquistas que aumentavam os espólios e a arrecadação do Estado.
Apesar da importância que os mercenários tiveram no processo de profissionalização dos exércitos – inclusive treinando as milícias que se tornariam os primeiros exércitos nacionais –, os riscos implicados no seu emprego logo ficaram evidentes. Em princípios do século XVI, Maquiavel refletiu sobre o problema a partir de suas observações das guerras na Itália, e entendeu que era necessário não apenas profissionalizar a atividade militar, mas também subordiná-la ao Estado. A melhor maneira seria constituir um exército de cidadãos, pois estes lutariam melhor por suas cidades, família e valores do que mercenários, que só lutam por si mesmos. N’O Príncipe, ele sustenta que aqueles que mantêm seus principados com mercenários arriscam-se, pois estes lutam apenas por si. Segundo ele: “se um príncipe fundamenta o seu poder nas armas mercenárias, não o terá jamais sólido nem gozará de segurança, porque os soldados não se lhe afeiçoam, são ambiciosos, indisciplinados e infiéis.” (MAQUIAVEL, 1987, p. 88)
Instruídos pela experiência das guerras na península itálica, quando houve diversos episódios de traição por parte dos mercenários, os exércitos italianos passaram, cada vez mais, bem como outros pela Europa, a se organizar segundo o modelo greco-romano da antiguidade: homens recrutados por um período de treinamento e empregados, quando necessário, em unidades seguindo o padrão da infantaria romana, modelo preferido de Maquiavel, segundo padrões disciplinares cada vez mais rígidos que proporcionaram o surgimento de tropas mais organizadas, numerosas e hierarquicamente mais complexas. Uma revolução militar acontecia aceleradamente e sua força motriz seria, segundo Weber (2011), a disciplina, não a pólvora.
Com efeito, Hobsbawm (2010, p. 29) afirma que “nenhum Estado europeu antes do século XVII tinha capacidade de manter um exército nacional permanente, recrutado, pago e administrado diretamente pelo governo central”. O monopólio das armas foi, portanto, consolidado apenas no século XIX. Entre os séculos XVI e XVIII, tropas regulares formadas em meio a dificuldades burocráticas e financeiras dos jovens Estados europeus não somavam mais do que algumas poucas dezenas de milhares de homens e, por isso, era necessário complementá-las com mercenários. Mas a impossibilidade de subordinar esses soldados convenceu os soberanos da necessidade de expansão dos exércitos permanentes, ainda que mais caros e difíceis de manter. Esse seria o caminho que levaria aos exércitos nacionais contemporâneos e à superação do próprio Antigo Regime.
O retorno dos mercenários
Após séculos de guerras travadas por exércitos estatais, a Guerra Fria gestou grandes mudanças na dinâmica dos conflitos. Em função da dissuasão nuclear entre as potências, a guerra transferiu-se para regiões periféricas do sistema internacional, através do recurso a expedientes não convencionais, como grupos irregulares armados e financiados por Estados para realizarem o emprego militar direto reduzindo os custos e riscos políticos/sociais da guerra.
A partir de 1945, a emergência de uma ordem internacional voltada para a cooperação e a criminalização da guerra, respaldada pela dissuasão nuclear, gerou constrangimentos para o emprego do poder militar, notadamente o risco de escalada entre atores nucleares e a opinião pública – fator inexistente ou pouco relevante para os estadistas até o século XX. Depois, a atmosfera de pacificação do pós-Guerra Fria tornou o recurso à força ainda mais difícil, elevando os custos políticos para ações consideradas agressivas na política internacional. O desenvolvimento dos meios de comunicação, que tornam cada vez mais instantâneas as atrocidades da guerra, influenciam a opinião pública a rejeitar o emprego de suas forças armadas em incursões de resultado duvidoso.
No entanto, apesar dessas mudanças, a defesa dos interesses estatais continua pautando a realidade internacional e levou ao retorno de um velho expediente: as companhias militares privadas, alternativa conveniente em face da hesitação dos líderes políticos para pagar os custos nacionais do envolvimento em certos conflitos.
O ressurgimento dos mercenários representa um processo de terceirização do emprego militar, lembrando as fases iniciais da formação do Estado, e foi também expressão do neoliberalismo hegemônico sob o lastro do consenso de Washington. Entre as potências, destacam-se o Black Water, empenhado na 2ª Guerra do Golfo, e o DynCorp, na Colômbia, envolvido no combate ao narcotráfico, ambos dos EUA, a nação mais beligerante do mundo desde 1945. O outro caso que merece nossa atenção, e que enseja essa reflexão, é o Grupo Wagner, criado em 2014 para atuar na Ucrânia e utilizado também, e com enorme eficácia, na guerra da Síria, além de conflitos no Mali, Sudão e, mais recentemente, na República Centro Africana. O custo político do emprego desses grupos para os Estados é mínimo. Todavia, como já sabemos, os riscos podem ser altos.
Esses riscos são, objetivamente, traição e secessão. O que aconteceu no caso em tela levanta diversas suspeitas, inclusive do possível aliciamento do G. Wagner por forças inimigas da Rússia, fato recorrente no emprego de mercenários ao longo da história. Se algo dessa natureza acontece, pode comprometer seriamente o esforço de guerra, pois existe a possibilidade de o motim galvanizar elementos das forças regulares simpáticos às demandas do grupo ou solidários a ele em decorrência do espírito de corpo gerado pelo campo de batalha. A questão central, retomando os fundamentos deste texto, é, portanto, o risco crítico que essa insubordinação representa ao monopólio da violência do Estado.
É sintomático desse risco o fato de o ministro da defesa russo ter negado apoio logístico e operacional às forças do G. Wagner empenhadas na Ucrânia, insinuando o reconhecimento do grupo como uma ameaça a ser contida. Isso significa um perigo de divisão nas forças combatentes, o que explica as tentativas de assimilação e subordinação do Wagner pelo MD, sumariamente rejeitadas pelo grupo. Prigozhin, nesse momento, parece lutar por sua autonomia, e o Estado russo parece já ter compreendido que a relação ultrapassou o limite, pois a importância assumida pelo grupo aumentou seu poder de barganha, que começa a incomodar. Atingido este ponto, só há duas saídas para o Estado: a subordinação dos mercenários através da sua incorporação, como a própria Ucrânia fez com algumas milícias, como o Batalhão Azov; ou sua eliminação – por destruição física (o que significaria uma guerra civil) ou exílio (que parece ser o acordo negociado entre as partes na Bielorrússia).
De qualquer jeito, uma coisa é certa: só há espaço para um no manuseio da espada do Estado.
João Rafael Gualberto de Souza Morais é historiador, cientista político e professor no Instituto de Estudos Estratégicos da UFF
REFERÊNCIAS
CLAUSEWTIZ, Carl von. Da guerra. 3 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2010.
GIDDENS, A. O Estado-nação e a violência. São Paulo: Edusp, 2008.
GILBERT, Feliz. “Maquiavel: o renascimento da arte da guerra”. In: PARET, Peter. Construtores da estratégia moderna – Tomo 1. Bibliex, 2001.
HOBSBAWM, Eric. Bandidos. 4 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010.
KALDOR, Mary. New and old wars: organized violence in a global era. Stanford: Stanford University Press, 2006.
MAQUIAVEL, Nicolau. Da arte da guerra. Bauru, SP: EDIPRO, 2002.
_______. O Príncipe: escritos políticos. 4 ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987.
PARET, Peter. (org.) Construtores da estratégia moderna. Tomos 1 e 2. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 2003.
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2011.